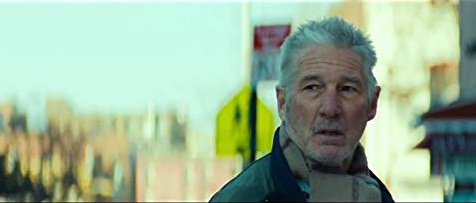— Ele! Foi aquele ali! — e sinalizou aos demais o pequeno, que se espantou ao perceber todos os olhares se voltando para ele. Olhou para trás, buscando ver para onde apontava a mulher, mas não tinha mais ninguém ao seu redor. Assustado, com uma sacola na mão, o menino começou a recuar vagarosamente, como se andasse sobre um campo minado, até que suas costas colidiram em algo. Ao se virar, deparou-se com um homem. Grande, forte e de cabelos claros, ele observava a criança e tentava ver o que ela carregava.
Enquanto os dois se encaravam, o menino percebeu o movimento inverso. Agora, todos os que estavam na roda, pouco antes de sua chegada, caminhavam em sua direção. Ele sentia o corpo tremer. As primeiras gotas de suor escorreram pela testa e atingiram o olho esquerdo. O garoto secou-o, também lentamente, com medo de se mexer diante dos olhares que perscrutavam atentamente todos os seus gestos.
— O que tem aí nessa sacola, moleque? — perguntou o homem contra o qual o menino batera. O tom de voz parecia grosseiro para quem acabara de conhecê-lo, pensou Miguel. Mas não podia ser diferente. Em todos esses anos vivendo nas ruas, acostumara-se à rudeza no trato. Poucas vezes, recebera palavras afetuosas ou um sorriso gratuito. Mesmo quando alguém lhe oferecia ajuda, sentia o asco no olhar.
— São coisas que eu como e outras que eu vendo, moço. Tenho uns bombons, umas balas e uns chicletes. Os biscoitos são meus. Comprei com o dinheiro das vendas, moço. O senhor que comprar algo? — questionou o menino, cujo corpo tremia ainda mais.
— Compra e vende? Ou rouba, moleque? — gritou o homem, puxando a sacola da mão do menino — A senhora quer conferir se a sua bolsa está aqui? — o homem, agora, falava de modo sereno e simpático, olhando a mulher com delicadeza. Por que ele não era tratado assim?
Miguel abriu a boca para explicar que nunca vira a senhora nem a bolsa que lhe pertencia, mas foi cortado antes que pudesse iniciar a fala.
— Não deve estar. Esse bandidinho já deve ter jogado fora e escondido o dinheiro. Não suporto mais esse país sem regras, sem respeito, sem lei — disse a mulher, encarando-o com o raiva.
— Mas eu não sou bandido, senhora. Eu nunca te vi. E nunca roubei ninguém. Trabalho com os doces que estão na minha sacola. Moro na rua, mas não sou ladrão — e esticou a mão para pegar o embrulho, mas o homem deu um tapa nos dedos da criança. Todos riram. Outro homem, que vestia um terno meio amassado, empertigou-se. “Eles são sempre inocentes, sempre sem culpa de nada. Coitados!”, e gargalhou. Apesar das risadas, os olhos que observavam a criança transmitiam outros sentimentos: ódio, repugnância, ironia, descaso, nojo.
Miguel analisava, sem entender, os que formaram uma roda em torno dele. Como poderiam pensar que ele tinha cometido o crime? Havia acabado de chegar ao local, pela primeira vez naquele dia, quando encontrou a multidão reunida. Perto dali, havia a mercearia da dona Araci, com quem sempre comprava os materiais para revender durante a manhã e a tarde. Ela o recebia com um pão quentinho, cheio de manteiga, e um café com bastante açúcar. “É para dar energia, Miguelzinho, para mais um dia”, falava ao menino, em tom maternal.
Araci conhecia a história de Miguel e era uma das poucas pessoas que não duvidavam dele. Já havia expulsado de seu estabelecimento um sem-número de homens e mulheres que desdenharam da criança. “Some daqui! Se você acha que ele não serve para ficar por perto de você, é você que não serve para ficar perto da gente!”, esbravejou a idosa, em uma manhã ensolarada, quando uma cliente da mercearia tentou insinuar coisas sobre o menino.
— Onde está o meu dinheiro, moleque? — A mulher se abaixou e encarou Miguel nos olhos. O menino se sentia ameaçado como nunca antes. Eram pessoas grandes, bonitas, com caras que poderia ser simpáticas ao mundo, menos a ele. O garoto não desviou o olhar, mas sentia que estava prestes a perder o controle e correr até a mercearia de dona Araci para pedir socorro, mas temia o que poderiam fazer se ele saísse dali.
— Eu não sei, senhora. Eu já disse: não roubei a senhora nem ninguém. Sou trabalhador — a frase foi seguida por mais risadas dos demais — Sou, sim! Eu vendo doces para sobreviver e estava indo comprar mais agora e tomar meu café da manhã. Sempre passo por esse caminho. Eu não roubei a senhora! — gritou Miguel, tentando ser ouvido. O desabafo foi seguido por outro tapa. Agora, na cabeça. As lágrimas pareciam querer sair à revelia do garoto.
Ele se sentia engolido por aqueles homens e mulheres que fechavam todos os caminhos pelos quais poderia passar. Miguel olhava para os lados, buscando um ponto de escape, mas o cerco ficava cada vez mais apertado. Os que passavam na rua e não participavam da cena apenas analisavam o que acontecia, cada um com sua opinião, alheios ao medo da criança. “Mas está uma bagunça essa cidade. Não se pode nem andar pela calçada”, reclamou uma senhora, de cabelos brancos, que virava o pescoço para entender quem estava no meio da roda.
O garoto estava sentindo um pouco de dificuldade para respirar. O abafamento tornava-se cada vez pior. Ele tentara dizer que não havia feito nada, que nunca cometera nenhum crime em sua curta vida, mas parecia se comunicar em outro idioma. O calor aumentava à medida que o tempo passava. O espaço estava cada vez apertado. Seu corpo, agora tomado pelo suor, encolhia-se aos julgamentos dos outros. Os outros vociferavam e o humilhavam, mas as vozes foram cessando a tempo de o trêmulo menino ouvir a sirene anunciando a chegada da polícia.
Sem conseguir se controlar, Miguel se sentou no chão, colocou as mãos sobre a cabeça e chorou baixinho. Se pudesse, rezaria, mas não conhecia orações. Abriu os olhos e viu que, à multidão, juntavam-se homens de farda. Um deles foi até o menino, tocou seu ombro e mandou que se levantasse. Ele acompanhou sem questionar. Não sabia o que fazer.
Entrou na viatura, ainda com lágrimas nos olhos. Percebeu que a sua sacola, antes na mão do homem, havia sido jogada no chão. Os doces se espalharam pela rua. Alguns foram chutados para o asfalto e outros, pisoteados. O grupo se desfizera. Homens e mulheres saíram conversando e rindo e se recordando do menino. “Um absurdo”, dissera um senhor que acabara de ouvir a história sobre um garoto que roubou a bolsa de uma mulher. “Falaram até que estava armado”, comentou com a esposa enquanto os dois olhavam para dentro da viatura.
Seria só mais um dia de café e de trabalho. O motor sinalizou que o veículo se preparava para sair. O menino pôs as mãos no bolso e percebeu que havia um bilhete que dona Araci lera e dera para ele, em um desses dias de visita à mercearia. Miguel não sabia ler, mas se lembrava da voz da mulher: “Venha sempre comer o seu pão com manteiga, tomar o seu café e comprar os seus doces, menino querido”.
Do outro lado do vidro, à medida que o carro seguia, ele percebeu que não tivera tempo para se despedir de Araci e agradecer. Talvez ela se lembrasse de ir visitá-lo onde ele estivesse. A sirene foi novamente acionada e o carro partiu. Ou talvez ela acreditasse nas besteiras ditas por outros. A velocidade era tanta que ele não conseguia acreditar. Nunca havia andado de carro e temia.
Talvez ela esteja o esperando lá, onde quer que seja, para um abraço, com um café e um pão. Cabeças se viravam para a viatura que parecia alternar entre curvas arriscadas e risadas dos homens alheios ao garoto. Talvez dona Araci não saiba ainda, mas poderá chegar em breve. Uma freada brusca seguida por um vozerio e olhares atentos e esnobes sobre Miguel, que era levado, em silêncio, para uma sala escura e fechada. Sentou-se e olhou o vazio ao redor. Talvez ele vire somente estatística no fim de um mês.